Betty Blue, o romance de Philippe Djian que foi levado às
telas com maestria por Jean-Jacques Beineix, se encerra em forma de tragédia.
Ao se deparar com o que restou de sua namorada Betty (Béatrice Dalle), tomada
pela insanidade e presa a uma cama de hospital, Zorg (Jean-Hughes Anglade) toma
uma decisão extrema: poupá-la de tamanho sofrimento. É impossível mensurar a
dimensão da sua dor quando ele pega um travesseiro e a sufoca. Zorg sai de lá
vazio, oco como um tronco tomado por cupins, do mesmo modo que Frank, o
personagem de Clint Eastwood em Menina de Ouro, após cometer eutanásia na sua
aprendiz e jovem lutadora Maggie (Hillary Swank), a quem amava com fervor de
pai.
Tanto Zorg quanto Frank estão moídos por uma tristeza
infinita, revirados em si mesmos por se sentirem obrigados a cometer atos tão
extremos. A vida, nas duas situações, é tirada como uma forma de preservação,
se é que isso é possível. São homens matando mulheres, o que é deplorável, mas
também são seres humanos poupando outros seres humanos de um destino sombrio,
para dizer o mínimo. Ao sacrificarem por compaixão as pessoas que amam, eles
sacrificam a própria dignidade, reduzindo suas vidas a escombros. Ambos põem em
prática o que se poderia chamar de crime passional, numa acepção rigorosa do
termo, hoje tão banalizado.
É algo bem diferente do que acontece com espantosa frequência
nas cidades brasileiras, onde execuções motivadas por ódio, ciúmes ou intolerância
recebem a alcunha de crimes passionais. São chamados assim sem qualquer tipo de
reflexão pela polícia, pela imprensa e pela população em geral – numa inversão
de valores que torna o algoz uma espécie de justiceiro a lavar sua honra com
sangue. Ao contrário dos crimes de Frank e Zorg, profundamente misericordiosos,
atos como esses revelam antes de tudo um incômodo egoísmo. Os motivos alegados
são invariavelmente os mesmos: matam a mulher que, em teoria, amam por conta de
uma suposta impossibilidade de viverem sem ela. Mas e a vida dela? E os filhos
de ambos, as famílias destroçadas?
Suicidar-se em seguida não melhora a situação, antes a
agrava. Mas, numa sociedade patriarcal e ainda presa a sua origem rural, o
morto sobrevive forjando um arquétipo de herói. É o Brasil arcaico sobrevivendo
no Brasil moderno e sobrepondo-se a ele. Nesse cenário desolador, nós caminhamos
a passos largos rumo ao passado, como bandeirantes broncos e desajeitados,
incapazes de encarar um mundo no qual pessoas de sexos diferentes, etnias
diferentes e orientações sexuais diferentes sejam capazes de conviver entre si.
É uma espécie de fundamentalismo, guardando desagradável semelhança com o mundo
islâmico contemporâneo, que condena mulheres a uma vida de desterro por trás de
panos grossos e inacessíveis ao cotidiano. Somos como talibãs ocidentais, apaixonados
por futebol, praia, cerveja e mulheres de biquíni minúsculo, desde, é claro,
que não sejam as “nossas” mulheres.









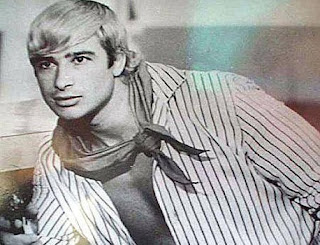






.jpg)

