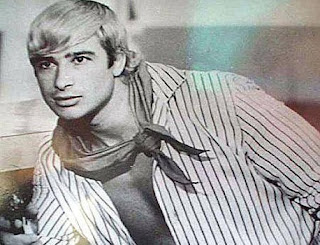Hebe Camargo morreu hoje. Ou foi ontem, não sei. Uns dias
antes já tinha ido embora Ted Boy Marino, de quem guardo uma lembrança simpática,
embora enevoada. Meu pai costumava chamar meu irmão mais novo de Ted Boy, e
costumávamos ver o astro do Telecatch em ação no programa dos Trapalhões, que eu
adorava. Lembro de quando meu pai nos levou ao cinema para ver Os Trapalhões no
Planalto dos Macacos, num cinema na área central e hoje bastante empobrecida da
cidade. Foi, talvez, o primeiro filme que assisti no cinema, mas pode ter sido
Tentáculos, sobre um polvo gigante assassino. São reminiscências que chegam até
o homem que sou hoje envolvidas numa pátina maciça de tempo. Reminiscências sem
muita lógica, que me vão povoando a mente enquanto o Led Zeppelin (também ele
uma lembrança de outros tempos) sacode o meu gabinete com uma sonoridade
espessa. Sei apenas que me causa certo desalento saber da morte de pessoas que
habitaram o meu imaginário infantil, como aconteceu há alguns meses com Chico
Anísio.
Aos 42 anos, sou muito mais vulnerável do que fui. Sinto
falta da redoma que durante décadas nos protegeu – a mim e a minha família – das
doenças graves, dos acidentes, da violência urbana, e que se quebrou de vez
quando meu pai adoeceu. É como diz aquela canção linda de Cazuza que Ney Matogrosso
gravou: “De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e
ingênua, que vai ficando no caminho”. Sim, a sensação de abrigo, morna e
ingênua, que pais verdadeiramente amorosos passam aos seus filhos, e que
perdemos aos poucos enquanto crescemos e nos tornamos, também, pais amorosos. “Uma
infância feliz é a pátria mais invulnerável”, me disse certa vez numa
entrevista o poeta argentino Juan Gelman. Acho que isso tem muito a ver também com
Ted Boy Marino, Didi Mocó, o Homem de Seis Milhões de Dólares, o Homem do Fundo
do Mar e tanta gente mais que nos fez companhia nas tardes solitárias da nossa
aurora – ou da minha, pelo menos.
Hoje eu protejo a minha criança em fase de metamorfose, crio
um casulo impermeável a sofrimento e frustração, enquanto temo o embrutecimento
coletivo ao meu redor. Mas... passou tão rápido. Sou tão criança ainda. Mal nos
acostumamos a nos comportar como adultos e a vida já nos mostra o fim da linha.
Que crueldade é essa que fazem com nós? Quem faz? Às vezes é muito duro ser
ateu, e nesses momentos compreendo a opção pela crença sem questionamentos,
pelo aceitar tranquilo e resignado de que estamos de passagem rumo ao paraíso. Mas
o que tenho é apenas este lado do paraíso. Uma porção incompleta, sem a outra
metade, já que à vida falta uma porta, como disse Ferreira Gullar. Sou estes
ossos que apalpo, este tendão de Aquiles inflamado que me faz mancar, esta pele
já não tão rígida, este ouvido que escuta agora Whole Lotta Love no volume
máximo. Sou um homem que envelhece lentamente, enquanto a vida leva aos poucos
nossas lembranças de infância, nossos Ted Boy particulares, nos deixando apenas
a perplexidade.